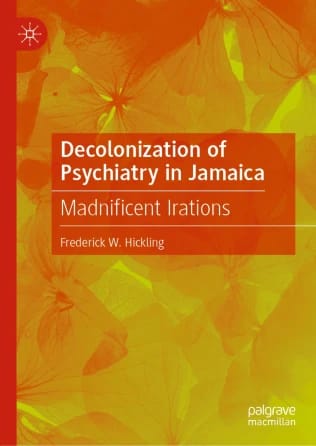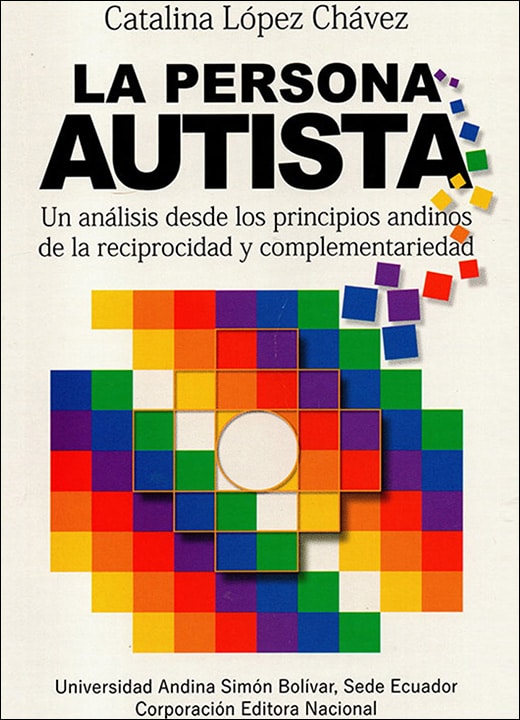
O autismo é uma categoria diagnóstica aplicável apenas às pessoas ocidentais ou está presente em todas as culturas? Quais são as concepções que grupos indígenas, por exemplo, têm sobre o autismo? É possível um diálogo intercultural sobre o autismo em que a visão biomédica ocidental então hegemônica não se imponha a outras compreensões? Como a cultura influencia o desenvolvimento das funções psicológicas superiores tais como a memória, a linguagem, a percepção, a atenção? A neuropsicologia tem considerado de forma suficientemente adequada a variável cultural, sobretudo, no que diz respeito à diferença entre grupos sociais sem hierarquizações e/ou patologizações? Os processos de reabilitação neuropsicológica devem ser os mesmos para todos independente das diferenças culturais? É possível ou mesmo desejável um pluralismo terapêutico?
Não se pretende responder a nenhuma dessas questões aqui; quer-se antes com elas revelar o quão profícuo pode ser pensar os ditos transtornos do neurodesenvolvimento a partir de culturas e epistemologias não ocidentais ou pouco ocidentalizadas. O instigante é manter as questões a um contínuo debate pelo qual é possível fazer emergir diálogos frutíferos e desdobramentos fecundos. Essa parece ser uma das principais razões para indicar a leitura do livro “A pessoa autista: uma análise dos princípios andinos da reciprocidade e da complementaridade” de Catalina López Chávez. Nele a autora busca compreender os modos pelos quais as comunidades indígenas andinas produzem sentidos e significados em torno da pessoa autista. Em lugar de simplesmente assumir que os conhecimentos indígenas são insuficientes para lidar com o autismo, como amiúde se faz, a autora realiza um fecundo e promissor diálogo entre as visões indígenas sobre o autismo e os modelos explicativos ocidentais. Seu paradigma é o da neurodiversidade como forma de evitar cair em binarismo excludentes como o do normal e do patológico.
O trabalho conduzido pela autora para tratar crianças indígenas com autismo está diretamente ligado ao contato com a natureza, não apenas porque a natureza promove a integração sensorial, mas, sobretudo, porque, na cosmovisão andina, ela representa a mãe-terra, Pachamama. A civilização andina é essencialmente relacional e, se, como sugerem os diagnósticos contemporâneos do transtorno do espectro autista desde Leo Kanner, o autismo implica um déficit relacional (sic), perceber a relação das crianças autistas com a natureza torna, no mínimo, problemática essa suposição. Em sociedades antropocêntricas como as ocidentais, há uma suposição de que seres humanos estabelecem vínculos apenas com outros seres humanos. Por outro lado, em várias cosmovisões indígenas, os seres humanos não se vinculam apenas a outros seres humanos, mas igualmente ao mundo não-humano que, para eles, também são humanos no sentido de serem dotados daquilo que os ocidentais vêem como exclusivo da humanidade.
Na perspectiva andina, segundo a autora, o autismo é resultado de um desequilíbrio cosmogônico por conta da destruição da mãe natureza e, de modo simultâneo, um presente dos céus como expressão da diversidade própria ao ser humano e, por isso, devem ser tratados com compreensão e consideração. Por essa razão, eu diria, o tratamento do autismo envolve um cuidado com a natureza, pois tudo está relacionado. Quando cuidamos da natureza, estamos cuidando dos seres humanos porque um está diretamente conectado ao outro. A noção andina de vincularidad expressa a relação que os seres humanos mantêm com seu território e com a natureza. Nas comunidades, as interações se dão a partir do dar, do receber e do devolver. Quando a natureza me dá algo como o alimento, eu recebo e lhe devolvo algo como, por exemplo, um ato de cuidado para que ela se regenere e floresça. Por isso, as crianças são, desde muito cedo, incentivadas a desenvolver um “eu-comunitário”.
Em uma entrevista, Catalina Chávez chega mesmo a se perguntar, de forma provocadora, se o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade existe ou se o que as crianças ditas hiperativas têm é um “transtorno déficit de contato com a natureza”. Muito se especula sobre as causas do autismo e dos transtornos do neurodesenvolvimento. A oposição entre organogênese e psicogênese parece já superada e é mais comum admitir que os transtornos do neurodesenvolvimento são resultado da interação entre biologia e ambiente. A visão andina agrega um elemento a mais, a espiritualidade. A espiritualidade tem a ver com o que Sigmund Freud descreveu como o “sentimento oceânico”. O avanço técnico e a instrumentalização da natureza permitem cada vez menos às pessoas ocidentais o sentimento de conexão oceânica com o cosmos. E nisso está um déficit de relacionalidade dos ocidentais. Ora, e se usássemos essa “medida indígena” como medida para diagnosticar o autismo, não teríamos um aumento na contabilidade de casos entre os ocidentais? Se usássemos o déficit relacional com a natureza como critério, certamente o leitor deste texto seria considerado autista caso não o seja. Por mais que a ciência se esforce por subtrair a dimensão da contingência para supostamente ver o universal, é o movimento oposto que parece mais razoável, isto é, o que é necessariamente universal é a contingência.
Por Marcos de Jesus Oliveira (28.05.24)